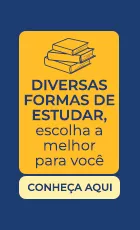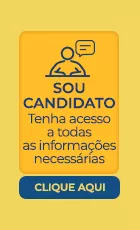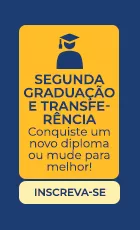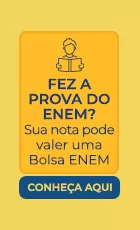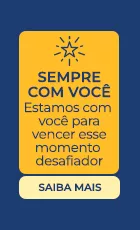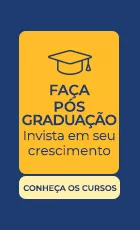Menu do Curso
-
Áreas de Concentração:
Ensino de Ciências
-
Público alvo:
Graduados na área de Física, Química, Biologia, Matemática e profissionais que atuam nos diversos níveis de ensino, bem como profissionais de áreas afins que queiram dedicar-se à pesquisa no ensino. .
Nível: Mestrado e Doutorado
Sobre o nosso curso
O Programa de Mestrado em Ensino de Ciências, tem por finalidade produzir conhecimentos científicos que possam contribuir de forma direta na formação de educadores de ensino de ciências e matemática. Sua estrutura curricular agrega conteúdos atuais das áreas de ciências e matemática, com abordagens multi e interdisciplinares, com foco em pesquisas desenvolvidas no ensino dessas áreas, além do estudo da aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação no ensino.
Em função dessas finalidades, pretende-se formar um pesquisador que possa atuar como indutor de transformações sociais, tendo como base a apropriação de saberes necessários; ao exercício de docência e pesquisa, a incorporação de conhecimentos científicos e ao domínio de metodologias educacionais e de pesquisa, aspectos esses fundamentais para dar suporte à práxis contextualizada e à pesquisa.

Setor de Apoio Acadêmico
-
Fone:
(11) 3385-3015 -
E-MAIL:
stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br
-
Áreas de Concentração:
Ensino de Ciências
-
Público alvo:
Graduados na área de Física, Química, Biologia, Matemática e profissionais que atuam nos diversos níveis de ensino, bem como profissionais de áreas afins que queiram dedicar-se à pesquisa no ensino.
-
Coordenação
Profa. Dra. Edda Curi
-
Coordenação Adjunta
Profa. Dra. Rita de Cassia Frenedozo
Coordenação do Curso
Profa. Dra. Edda Curi
Coordenação Adjunta
Profa. Dra. Rita de Cassia Frenedozo
Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências
O Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências foi implantado em 2007 e o Doutorado em 2008. No triênio 2007-2009 o Programa foi avaliado pela CAPES com conceito 4,0 e no triênio 2010-2012 com conceito 5,0. Destacam-se a responsabilidade e o compromisso da Instituição e a identificação e o comprometimento do corpo docente que, na época de implantação do Curso de Mestrado, era formado por professores com tempo médio de trabalho na instituição.
O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, nível mestrado acadêmico e doutorado, tem por finalidade produzir conhecimentos científicos que possam contribuir de forma direta na formação de educadores de ensino de Ciências e Matemática. Sua estrutura curricular agrega conteúdos atuais das áreas de Ciências e Matemática, com abordagens multi e interdisciplinares, com foco em pesquisas desenvolvidas no ensino dessas áreas, além do estudo da aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação no ensino. Em função dessas finalidades, pretende-se formar um pesquisador que possa atuar como indutor de transformações sociais, tendo como base a apropriação de saberes necessários; ao exercício de docência e pesquisa, à incorporação de conhecimentos científicos e ao domínio de metodologias educacionais e de pesquisa, aspectos esses fundamentais para dar suporte à práxis contextualizada e à pesquisa.
Durante o processo de implantação e consolidação do Programa de Ensino de Ciências da Universidade Cruzeiro do Sul, observa-se a evolução dos seguintes indicadores:
– aumento de produção científica dos docentes e discentes de acordo com orientação da área;
– estabelecimento de intercâmbios em nível nacional e internacional,
– ampliação de captação de recursos nas agências de fomento,
– demanda cada vez maior de professores das redes municipal,estadual e federal de educação,
– visibilidade e interesse de IES de outros estados no estabelecimento de MINTER e DINTER,
– consolidação de grupos e linhas de pesquisa institucionais registrados no CNPQ,
– compromisso institucional e solidificação do corpo docente,
– inserção social em projetos com as redes públicas estadual e municipal de São Paulo.
O Programa capacitou alunos da região metropolitana e da grande SÃO Paulo, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, do interior do estado e ainda de outros estados como Bahia, Minas Gerais, Rondônia, Amapá¡ Espírito Santo, Paraná e Distrito Federal, o que permite uma ramificação das ideias defendidas no curso por várias regiões brasileiras.
Homologado pelo CNE (Portaria MEC nº 609, de 14.03.2019, DOU de 18.03.2019, seç. 1, p. 118)
Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências
O Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências foi implantado em 2007 e o Doutorado em 2008. No triênio 2007-2009 o Programa foi avaliado pela CAPES com conceito 4,0 e no triênio 2010-2012 com conceito 5,0. Destacam-se a responsabilidade e o compromisso da Instituição e a identificação e o comprometimento do corpo docente que, na época de implantação do Curso de Mestrado, era formado por professores com tempo médio de trabalho na instituição.
O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, nível mestrado acadêmico e doutorado, tem por finalidade produzir conhecimentos científicos que possam contribuir de forma direta na formação de educadores de ensino de Ciências e Matemática. Sua estrutura curricular agrega conteúdos atuais das áreas de Ciências e Matemática, com abordagens multi e interdisciplinares, com foco em pesquisas desenvolvidas no ensino dessas áreas, além do estudo da aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação no ensino. Em função dessas finalidades, pretende-se formar um pesquisador que possa atuar como indutor de transformações sociais, tendo como base a apropriação de saberes necessários; ao exercício de docência e pesquisa, à incorporação de conhecimentos científicos e ao domínio de metodologias educacionais e de pesquisa, aspectos esses fundamentais para dar suporte à práxis contextualizada e à pesquisa.
Durante o processo de implantação e consolidação do Programa de Ensino de Ciências da Universidade Cruzeiro do Sul, observa-se a evolução dos seguintes indicadores:
– aumento de produção científica dos docentes e discentes de acordo com orientação da área;
– estabelecimento de intercâmbios em nível nacional e internacional,
– ampliação de captação de recursos nas agências de fomento,
– demanda cada vez maior de professores das redes municipal,estadual e federal de educação,
– visibilidade e interesse de IES de outros estados no estabelecimento de MINTER e DINTER,
– consolidação de grupos e linhas de pesquisa institucionais registrados no CNPQ,
– compromisso institucional e solidificação do corpo docente,
– inserção social em projetos com as redes públicas estadual e municipal de São Paulo.
O Programa capacitou alunos da região metropolitana e da grande SÃO Paulo, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, do interior do estado e ainda de outros estados como Bahia, Minas Gerais, Rondônia, Amapá¡ Espírito Santo, Paraná e Distrito Federal, o que permite uma ramificação das ideias defendidas no curso por várias regiões brasileiras.
Homologado pelo CNE (Portaria MEC nº 609, de 14.03.2019, DOU de 18.03.2019, seç. 1, p. 118)
Ensino de Ciências
Descrição
A linha propõe estudos e pesquisas sobre aspectos conceituais, teóricos e metodológicos relacionados ao ensino de Ciências, Matemática e suas Tecnologias. Estuda e investiga os fundamentos epistemológicos, científicos, culturais, sociais, ambientais e inclusivos associados com a produção do conhecimento. Contempla correntes e tendências contemporâneas inovadoras voltadas aos ambientes formais e não formais de ensino e aprendizagem. A linha visa à formação de sujeitos críticos e cientificamente competentes para exercer a cidadania. As investigações contemplam diversas abordagens e metodologias, que incidem na melhoria da aprendizagem, em todos os níveis de ensino.
Ensino de Ciências
Descrição
Esta linha de pesquisa pretende reunir estudos cujas temáticas estejam associadas ao campo do currículo, avaliação e formação de professores, a partir de diferentes enfoques teóricos e metodológicos. As pesquisas de currículo contemplam distintas abordagens e múltiplas dimensões — a análise de currículos em diferentes instâncias curriculares, a produção de materiais curriculares, até as práticas envolvidas no desenvolvimento curricular nas escolas. Nesta linha também contemplam discussões acerca de concepções e práticas avaliativas desenvolvidas no âmbito escolar, ou que nele incidam, influenciando as práticas curriculares. Pesquisas nesta linha envolvem ainda, processos de formação (inicial e continuada) de professores de Ciências e Matemática, levando em conta tendências contemporâneas do ensino de Ciências e Matemática e referenciais teóricos e metodológicos da formação docente presencial ou a distância, e suas implicações nestas áreas de Ensino. Abrange as especificidades do processo de formação mediada por tecnologias e utilização de recursos tecnológicos no ensino de Ciências e Matemática. Investiga e avalia os Ambientes Virtuais de ensino-aprendizagem, o Pensamento Computacional, a Inteligência Artificial, os Jogos Educacionais, e outros artefatos digitais no Ensino de Ciências e Matemática. Finalmente, a linha inclui estudos, investigativos e interculturais nas perspectivas disciplinar, multi e interdisciplinar no âmbito da Educação Básica, Ensino Superior e da Educação não formal.
Estrutura Curricular vigente para ingressantes a partir de 2021:
(clique aqui e faça o download)
Estrutura Curricular vigente para ingressantes a partir de 2017:
(clique aqui e faça o download)
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudo de temas relacionados com Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), enfatizando a importância da
educação científica (alfabetização científica) e do ensino e aprendizagem de questões CTS; o funcionamento da
ciência e da tecnologia no mundo atual; a natureza da ciência e da tecnologia e as relações entre Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS) como um componente central da alfabetização científica para todos os cidadãos; CTS
no planejamento e na inovação do currículo, como um dos componentes das propostas oficiais de currículo e ensino
de todos os níveis de escolarização.
Referências Bibliográficas
SANTOS, M. E. V. M. Que cidadania? Lisboa: SANTOSEDU, 2005 (Que educação? Que cidadania?
Em que escola? Tomo II).
SANTOS, Filipe Duarte. Que futuro? Ciência, Tecnologia Desenvolvimento e Ambiente. Lisboa/PT: Gradiva, 2007.
CHASSOT, Attico. Sete escritos sobre educação e ciência. São Paulo: Cortez, 2008.
CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4. ed. Ijuí/RS: Unijuí, 2006.
REIS, Pedro Rocha dos. A escola e as controvérsias sociocientíficas: perspectivas de alunos e professores.
Lisboa/PT: Escolar, 2008
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
A emergência e os desdobramentos do campo do currículo. Currículo como o produto de uma construção social e histórica. Relações entre o currículo, conhecimento e cultura. Currículo como prática de significação. O estudo das Teorias do currículo: tradicionais, críticas e pós-críticas. Currículo e cultura como prática de significação das relações sociais e de construção de sujeitos. Relações entre currículo e projeto político-pedagógico.
Referências Bibliográficas
APPLE, M. W, Educação e poder, Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. _____________Ideologia e currículo. Porto Alegre: Artmed, 1982. FORQUIN, J. C. Escola e Cultura. Aas bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar (1987). Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 48ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia. 48ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. Giroux, H. Escola crítica e Política cultural. São Paulo: Cortez A. Associados, 1987. _________. Teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis: Vozes, 1986. GOODSON, Ivor. A construção social do currículo. Lisboa: Educa, 1996. MC LAREN, Peter. A vida nas escolas. Uma introdução à pedagogia crítica dos fundamentos da educação (1989). Porto Alegre, Artes Médicas, 2ª ed., 1997. MOREIRA, A.F. Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 1994. PALANCH, W. B. L. (2016). Mapeamento de Pesquisas sobre Currículos de Matemática na Educação Básica Brasileira (1987 a 2012). Tese de Doutorado em Educação Matemática. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. PALANCH, W. B. L.(2016). Panorama sobre Currículo em Educação Matemática. Boletim GEPEM, Rio de Janeiro, n. 68, p. 52-65. PALANCH, W. B. L.; PIRES, C. M. C. (2017). Um Panorama das Pesquisas Centradas nas Implementações e Organizações Curriculares no período de 1987 a 2012. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 19, n. 03, p. 1039-1056. SACRISTÁN, J. Gimeno. Currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Abordagens e análise de métodos divulgação do conhecimento científico e tecnológico com ênfase na promoção da melhoria do ensino de Ciências e Matemática e na construção da cidadania. Reflexão sobre o impacto da Educação científica na formação de cidadãos no contexto do pensamento crítico para a contemporaneidade do século XXI. Análise de iniciativas reais e virtuais para a Educação e Divulgação Científica. Estudo dos princípios de comunicação aplicados à Divulgação Científica. Análise de produtos técnicos, materiais instrucionais, ferramentas tecnológicas e atividades de capacitação docente na área de Educação e Divulgação Científica. Estudos dos aspectos da Natureza da Ciência e da produção do conhecimento científico, bem como da compreensão da Ciência como construção humana e sua relação com os processos de ensino e aprendizagem. As relações entre sujeito, objeto e conhecimento. Discussão sobre o papel da experimentação e do Método Científico na construção do conhecimento científico e na Educação Científica. Teoria x Prática.
Referências Bibliográficas
- CADERNO DO MUSEU DA VIDA. (2002) O Formal e o Não Formal na Dimensão Educativa do Museu. Museu da Vida/FIOCRUZ e MAST/MCT. 2. GOUVÊA, G.; MARANDINO, M.; LEAL, M. C. (2003). Educação e Museu: a construção social do caráter educativo dos museus de ciências. Editora Access/Faperj, Rio de Janeiro. 3. KRASILCHIK, M; MARANDINO, M. (2004) Ensino de Ciências e Cidadania. São Paulo: Editora Moderna, 2004. v. 1. 4. National Research Council. (2010). Exploring the intersection of science education and 21st century skills: A workshop summary. National Academies Press. 5. Brownell, S. E., Price, J. V., & Steinman, L. (2013). Science communication to the general public: why we need to teach undergraduate and graduate students this skill as part of their formal scientific training. Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 12(1), E6. 6. ARRUDA, Sérgio M.; LABURÚ, Carlos Eduardo. Considerações sobre a função do experimento no ensino de Ciências, Questões atuais no Ensino de Ciências, Educação para a Ciência, v. 2, p. 53-60, 1998. 7. AULER, Décio. Alfabetização científico-tecnológica: um novo “paradigma”? Ensaio: pesquisa em educação em ciências, v. 5, n. 1, p. 1-16, mar. 2003. Disponível em: http://www.fae.ufmg.br/ensaio. 8. AULER, Décio. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressuposto para o contexto brasileiro. Ciência & Ensino, v. 1, n. especial, nov. 2007. 9. AULER, Décio; BAZZO, Walter Antonio. Reflexões para a implementação do Movimento CTS no contexto educacional brasileiro. Ciência e Educação. São Paulo, v. 7, nº 1. 1-13, 2001. 10. ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. Atividades experimentais no Ensino de Física: diferentes enfoques, diferentes finalidades, Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 25, 2, 176-194, Junho de 2003. 11. BERNARDES, Maria Beatriz Junqueira; PRIETO, Élisson Cesar. Educação Ambiental: Disciplina Versus Tema Transversal. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, v. 24, 2010, p. 173-185. Disponível em http://www.seer.furg.br/remea/article/view/3891/2321. 12. CAVALCANTI, Daniele Blanco; COSTA, Marco Antônio Ferreira da; CHRISPINO, Álvaro. Educação Ambiental e Movimento CTS, caminhos para a contextualização do Ensino de Biologia. REVISTA PRÁXIS, ano VI, n. 12, p. 27- 42, 2014. 13. CRUZ, Sônia M. S. C. de Souza; ZYLBERSZTAJN, Arden. O enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade e a aprendizagem centrada em eventos. In: Ensino de Física, Maurício Pietrocola (Org.), Editora UFSC, Florianópolis, p. 171-196, 2005. 14. DAGNINO, Renato. Para que ensinar CTS? Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 10, n. 3, p. 156-183, 2014. Disponível em: http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/1476/399. 15. DEMO, Pedro. Educação Científica. Boletim Técnico do Senac, v. 36 n. 1, p. 15-25, 2010. 16. DUSO, Leandro; BORGES, Regina Maria Rabello. Mudança de atitude de estudantes do ensino médio a partir de um projeto interdisciplinar sobre temática ambiental. Alexandria – Rev. de Educação em Ciência e Tecnologia, v.3, n.1, p.51-76, maio 2010. 17. Educação para a Ciência – Pesquisas em Ensino de Física. Roberto Nardi (Org). v.1, 2ª ed., Escrituras, São Paulo, 2001. 18. Educação para a Ciência – Questões atuais no Ensino de Ciências. Roberto Nardi (Org). v. 2, Editora Escrituras, SP, 2002. 19. Educação para a Ciência – Educação Ambiental – da prática pedagógica à cidadania. Jandira L. B. Talamoni e Aloísio C. Sampaio (Org). Vol. 4, Ed. Escrituras, SP, 2003. 20. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century, 2012. 21. FIGUEIREDO, Orlando. A controvérsia na educação para a sustentabilidade: uma reflexão sobre a escola do século XXI. Revista Interacções, n. 4, p. 3-23, 2006. 22. GONZAGA, Amarildo Menezes; OLIVEIRA, Caroline Barroncas de. As Contribuições de Paulo Freire a uma Educação Científica na Formação Docente. Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia do Campus Jataí – UFG, v. 1, n. 12, 2012. 23. HENRIQUE, Alexandre Bagdonas, ANDRADE, Victória Flório Pires de, L´ASTORINA, Bruno. Discussões sobre a natureza da ciência em um curso sobre a história da Astronomia. Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia – RELEA, n. 9, p. 17-31, 2010. 24. LINSINGEN, Irlan von. Perspectiva educacional CTS: aspectos de um campo em consolidação na América Latina. Ciência & Ensino, v. 1, n. especial, nov. 2007.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Processos de aprendizagem em espaços extra sala, tais como museus de ciências, planetários, unidades
de conservação da natureza, empresas.
Uso de sistemas de software não formais para o ensino, como whatsapp,
youtube, redes sociais, etc.
Referências Bibliográficas
Gadotti, Moacir (2005). A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO FORMAL/NÃO-FORMAL. INSTITUT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L’ENFANT (IDE). Sion (Suisse), 18 au 22 octobre 2005.
Guimarães, Mauro; VASCONCELLOS, Maria das Mercês N. (2006). Relações entre educação ambiental e educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não formais de educação. Educar, Curitiba, n. 27, p. 147- 162, 2006. Editora UFPR.
Jacobucci, Daniela Franco Carvalho (2008). CONTRIBUIÇÕES DOS ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE EDUCAÇÃO
PARA A FORMAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA. EM EXTENSÃO, Uberlândia, V. 7, 2008.
Queiroz, Ricardo Moreira de; Teixeira, Hebert Balieiro; Veloso, Ataiany dos Santos; Terán, Augusto Fachín; Queiroz,
Andrea Garcia de (2011). A CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS
. VIII ENPEC Encontro Nacional de Pesquisa. Campinas, SP.
Vieira, Valéria; Bianconi, M. Lucia; Dias, Monique (2005). ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE ENSINO E O CURRÍCULO
DE CIÊNCIAS. Ciência e Cultura. On-line version ISSN 2317-6660. Cienc. Cult. vol.57 no.4 São Paulo Oct./Dec.
2005.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
O conhecimento do professor para ensinar uma área do conhecimento. conhecimento comum e conmhecimento especializado. conhecimento didático do conteudo. conhecimento curricular. Conhecimento dos alunos, da grstão da escola e o conhecimento especializado. Identidade Profissional. Crenças, concepções e mitos nas áreas de Ciências e Matemática. professor reflexivo e pesquisador de sua própria prática.
Referências Bibliográficas
BALL, D. L.; THAMES, M. H.; PHELPS, G. Content Knowledge for Teaching: what makes it special? Journal of Teacher Education, v. 59, n. 5, p. 389- 407, 2008. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, n.º 9.394/1996. Diário Oficial União, Brasília, DF, v. 134, n. 248, Seção 1, p. 12, 23 de dezembro de 1996. CURI, E. A matemática e os professores dos anos iniciais. São Paulo: Editora Musa, 2005. FIORENTINI, D. et al. Formação de professores que ensinam matemática: um balanço de 25 anos de pesquisa brasileira. Revista Educação em Revista- Dossiê de Educação Matemática. Belo Horizonte: UFMG, 2003. GATTI, B. et al. Um estudo sobre os cursos de formação de professores a nível de 2º grau: antigos cursos normais. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, Nº 20, p.15-37, mar., 1977. GATTI, B. A. O curso de licenciatura em pedagogia: dilemas e convergências. EntreVer, Florianópolis, v. 2, n. 3, p. 151-169, jul.-dez. 2012. GATTI B. A.; NUNES, M. M. R. (Org.). Formação de professores para o Ensino Fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2009. v. 29. SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching. Educacional Research, v. 2, n. 15, p. 4-14, 1986. ___________. Knowledge and teaching: foundation of the new reform. Harvard Educational Review, n,57, p.1-22, 1987.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Análise crítica das transformações e desafios encontrados no campo da avaliação educacional e do papel da avaliação educacional na formação inicial e continuada de professores. Reflexão sobre as dimensões da avaliação educacional, dos recursos usados para a avaliação do desempenho escolar e da aprendizagem do aluno na área de ciências e matemática. A avaliação institucional e a avaliação externa ou avaliação em larga escala como momentos do processo de aprendizagem e de construção de conhecimento.
Referências Bibliográficas
- Buriasco R. L. O. Avaliação e Educação Matemática. Recife: SBEM. 2008 2. Creso F. (org) Avaliação, Ciclos e Promoção na Educação. Porto Alegre: ArtMed.Editora, 2001. 3. Freitas L.C. Questões da avaliação Educacional. São Paulo: Komide,2003 4. ————- Ciclo, Seriação e Avaliação. São Paulo: Ed. Moderna, 2003 5. Hoffmann J. Avaliação, Mito e Desafio: uma perspectiva construtivista da avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2008 6. Peres G. M. La evaluación del aprendizaje: tendências y reflexion critica . Rev. Cubana Ed. Med. Sup. 2001; 15 (1) P. 85 -96. 7. Valente W. R. Avaliação em Matemática: História e Perspectivas Atuais. Campinas: Papirus, 2008. 8. Vasconcellos C. 8. Avaliação, Concepção dialética – libertadora do processo. São Paulo: Libertad, 2006 9. Vídeos Youtube – Educational Evaluation – Communication of the Evaluation Results in School.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Fatores de textualidade: coerência, situacionalidade, coesão, informatividade, intertextualidade. A construção de sentidos no texto. Leitura, análise e produção de textos acadêmicos: resumo, resenha, artigo, relatório, projeto. Elaboração de produções teóricas: organização textual de acordo com as normas da ABNT. A escrita de ensaios acadêmicos e referencial teórico. Interpretação e escrita de artigos científicos. Redação de dissertações e teses.
Referências Bibliográficas
‘BAKHTIN, M.. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. M. Lahud e Y. F. Viera. SP: Hucitec, 1981. FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 7.ed. São Paulo: Ática, 2004. ECO, U. Como se faz uma tese. Trad. G. C. Cardoso. São Paulo: Perspectiva, 1983. FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 7.ed. São Paulo: Ática, 2004. FOUCAULT, M.. A ordem do discurso. Trad. L. F. A. Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 1987. FOUCAULT, M.. O que é um autor. Trad. J. A. B. Miranda e A. F. Cascais. Lisboa, Passagens, 1992. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia cientifica. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1991. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a Escrita: atividades de retextualização. 4.ed., São Paulo: Cortez, 2003.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 4
Ementa
Apresentação e discussão de métodos de pesquisa científica e das etapas da investigação para
desenvolvimento de espírito crítico no que concerne ao planejamento e execução de projetos de pesquisa em ensino
de ciências e matemática.
Referências Bibliográficas
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2007.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da Pesquisa Qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.
BARROS, A. J. S. Fundamentos de Metodologia Cientifica: Um Guia Para a Iniciação Cientifica. 2. ed. São Paulo:
Makron Books, 2004.
BORGES, M. C.; DALBERIO, O. Aspectos metodológicos e filosóficos que orientam as pesquisas em educação.
Revista Iberoamericana de Educación, n. 43, p. 1–10, 2007.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
LIMA, M.E.A.T. Analise do discurso e/ou analise de conteúdo. Psicologia em Revista, v. 9, n. 13, p. 76-88, 2003.
MOROZ, M.; GIANFALDONI, M. H. T. A. O Processo de Pesquisa: iniciação. Brasília: Plano Editora, 2002.
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Analise textual discursiva: processo reconstrutivo de multiplas faces. Ciencia &
Educacao, v. 12, n. 1, p. 117-128, 2006.
PAULO, R.M.; SANTIAGO, R.A.; AMARAL, C.L.C. A pesquisa na perspectiva fenomenologica: explicitando uma
possibilidade de compreensao do ser professor de matematica. Revista Brasileira de Pesquisa em Educacao em
Ciencias, v.10, n.3, p. 71-86, 2010.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudo e análise das principais políticas públicas em vigor nas áreas da educação, ciência e tecnologia no
Brasil, tendo como referência a relação entre Estado e Sociedade.
Compreensão das políticas públicas para a
educação, ciências e tecnologias focalizando entre outros aspectos a responsabilidade do Estado, em seus
diferentes âmbitos, pela elaboração, implantação e implementação dessas políticas.
Análise de questões como a
universalização da educação, os programas de ação governamental, as parcerias público-público e público-privado, a
gestão da educação e a formação de professores para o campo da ciência.
Estudo do financiamento na área
educacional e da criação das agências de fomento para o desenvolvimento científico e tecnológico e seu impacto no
desenvolvimento científico tecnológico nacional, bem como as leis e decretos relacionados à política nacional do
M.C.T.
Referências Bibliográficas
ALMEIDA, Maria de L. Pinto de. Globalização, liberalismo econômico e educação brasileira: quem
controla a produção do conhecimento científico? In.: FERREIRA, Naura S. Carapeto (org.). A gestão da educação na
sociedade mundializada: por uma nova cidadania. Rio de Janeiro, DP&A, 2003.
BORON, Atílio A. El Estado y lãs “reformas del Estado orientadas al mercado”. Los “desempeños” de La
democracia en América Latina. In: KRAWCZYK, Nora Rut e WANDERLEY, Luiz Eduardo W. (Orgs.) América Latina:
Estado e reforma numa perspectiva comparada. São Paulo, Cortez, 2003.
BRASIL-MEC. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas. Brasília: DF, 2007.
DAGNINO, Renato. As Trajetórias dos Estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade e da Política Científica e
Tecnológica na Ibero-América. Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.1, n.2, p.3-36, jul. 2008.
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.) Formação continuada e gestão da educação. 2 ed, São Paulo, Cortez,
2006.
HADDAD, Sérgio et al. Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas educacionais. São Paulo, Cortez,
2008.
SAVIANI, Dermeval. O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do Projeto do MEC. Educação &
Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100 – Especial, p. 1231-1255, out. 2007.
SCHWARTZMAN, Simon, COX, Cristián (orgs.) Políticas Educacionais e Coesão Social: uma agenda latinoamericana.
Rio de Janeiro, Elsevier; São Paulo: IFHC, 2009.
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). Global Education
Digest 2008: comparing education across the world. Montreal: Institute for Statistics, 2008.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Ementa: Introdução dos principais aspectos conceituais referentes a Objetos de Aprendizagem e Recursos Educacionais Abertos. Estudo de repositórios, federações e metadados. Abordagem de técnicas de design instrucional. Elaboração, uso e avaliação de recursos digitais de aprendizagem no Ensino de Ciências e Matemática.
Referências Bibliográficas
BRAGA, Juliana. Objetos de Aprendizagem Volume 1: introdução e fundamentos. Santo André:
UFABC, 2014.
BRAGA, Juliana. Objetos de Aprendizagem Volume 2: metodologia de desenvolvimento. Santo André: UFABC, 2015.
KALMAN, Yoram M. Open Educational Resources: Policy, Costs, and Transformation. Paris: UNESCO, 2016.
THOMAS, Michael. A basic guide to open educational resources. Paris: UNESCO, 2012.
WILEY, David A. Instructional use of learning objects. Agency for instructional technology, 2001.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Tópicos da ementa: Conceito de problema, objetivos e potencialidades de ensinar sobre, para e através da resolução de problemas. Tipos de problemas. Resolução de Problemas como metodologia de ensino, possibilidades na aprendizagem de conteúdos e no desenvolvimento de habilidades de pensamento de ordem superior em Ciências, Matemática e Tecnologias. O Pensamento Computacional no contexto da resolução de problemas.
Referências Bibliográficas
ALLEVATO, N. S. G. Resolução de Problemas. In: Associando o computador à resolução de problemas fechados: análise de uma experiência. 2005. 370 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, 2005. _______. Ensinando Matemática na Sala de Aula através da Resolução de Problemas. Boletim GEPEM, Rio de Janeiro, n. 55, p.1-19. 2009. Disponível em <http://www.ufrrj.br/SEER/index.php/gepem/article/view/54/87>. Acesso em 11mai2010. BARR, V.; STEPHENSON, C. Bringing computational thinking to K-12: what is Involved and what is the role of the computer science education community? Acm Inroads, v. 2, n. 1, p. 48-54, 2011. DA COSTA, Sayonara Salvador Cabral; MOREIRA, Marco Antonio. Resolução de problemas II: propostas de metodologias didáticas. Investigações em ensino de ciências, v. 2, n. 1, p. 5-26, 2016 EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS – PME Special Issue: Problem Posing in Mathematics Teaching and Learning: establishing a framework for research, v. 83, n. 1. [S.l.]: Springer, mai. 2013. ENGLISH, L. D.; GAINSBURG, J. Problem Solving in a 21st-Century Mathematics Curriculum. In: ENGLISH, L. D.; KIRSHNER, D. Handbook of International Research in Mathematics Education. 3. ed. New York: Routledge. 2016 FELMER, P.; PEHKONEN, E.; KILPATRICK, J. (Ed.). Posing and solving mathematical problems: advances and new perspectives. Switzerland: Springer, 2016. KRULIK, S.; RUDNICK, J. A. Roads to Reasoning – Developing Thinking Skills Through Problem Solving. Grades 5 – 9. Chicago: McGraw-Hill, 2002. LEE, I. et al. Computational thinking for youth in practice. Acm Inroads, v. 2, n. 1, p. 32-37, 2011. ONUCHIC, L. R.; LEAL JR, L. C.; PIRONEL, M. (Org.). Perspectivas para Resolução de Problemas. São Paulo: Livraria da Física. 2017. ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G., NOGUTI, F. C.; JUSTULIN, A. M. (Org.), Resolução de Problemas: teoria e prática. Jundiaí: Paco Editorial. 2014. REVISTA QUADRANTE – Resolução de Problemas, Lisboa: APM. v. XXIV, n. 2, 2015. ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G. As Diferentes “Personalidades” do Número Racional Trabalhadas através da Resolução de Problemas. Bolema. Rio Claro, n. 31, p.79-102. 2008. Disponível em <http://www.ufrrj.br/SEER/index.php/gepem/article/view/54/87>. Acesso em 11mai2010. POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 2 ed, 1994. POZO, J. C. A Solução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 1998. REVISTA REMATEC – Resolução de Problemas, Natal: UFRN. Ano 11, n. 21, jan – abr. 2016. SENGUPTA, P. et al. Integrating computational thinking with K-12 science education using agent-based computation: A theoretical framework. Education and Information Technologies, v. 18, n. 2, p. 351-380, 2013. SINGER, F.; ELLERTON, N.; CAI, J. (Ed.). Mathematical Problem Posing: from research to effective practice. New York: Springer, 2015. VAN DE WALLE, J. A. Ensinando pela Resolução de Problemas. In: Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula. TRAD. Paulo Henrique Colonese. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. VILA, A; CALLEJO, M. L. Matemática para aprender a pensar: o papel das crenças na resolução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 2006. VIEIRA, G.; ALLEVATO, N. S. G. Do ensino através da resolução de problemas abertos às investigações matemáticas: possibilidades para a aprendizagem. Quadrante, Lisboa, v. XXV, n. 1, 2016. WING, J. M. Computational thinking. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Atividade Obrigatória. Envolve pesquisas em andamento e pesquisas já concluídas de alunos e egressos do Programa. Além disso, pesquisadores externos são convidados para apresentação de suas pesquisas. Aborda ainda a leitura e exploração de textos acadêmicos selecionados de acordo com os interesses do grupo.
Referências Bibliográficas
Bibliografias atuais de acordo com as expectativas e necessidades dos grupos.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 4
Ementa
Análise das diferentes teorias explicativas da aprendizagem (cognitivismo, epistemologia genética e o
enfoque histórico-cultural) construídas no século XX, seus fundamentos epistemológicos e sua contribuição para a
organização de contextos de ensino de ciência e matemática, assim como para a formação inicial e continuada de
professores.
Análise das possibilidades da ação pedagógica e da aplicabilidade destas teorias para o ensino de
Ciências (Biologia, Física e Química) e o ensino de Matemática Análise crítica da produção desta área,
principalmente no contexto brasileiro, de modo a contribuir para o desenvolvimento de investigações que permitam
compreender os contextos de ensino existentes e construir novos cenários e situações de ensino, de modo a ampliar
a qualidade do processo educativo.
Referências Bibliográficas
Ausubel D. P. et al. Psicologia Educacional. São Paulo: Interamericana,, 1973.
Beatón G. A. La Persona en lo Historico – Cultural. São paulo: LinearB, 2005
——- Inteligência e Educação. São Paulo: Terceira Margem, 2006.
Flavell J. H, Miller P. H, Miller S. A. Cognitive Development. New York: Prentice-Hall Inc, 1993.
Luria A. R. Desenvolvimento Cognitivo: seus fundamentos sociais e culturais São Paulo: Ed, Ícone, 1994
6. Moreira M.A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1997.
Perez M. A. y coautores. Interdisciplinaridad: una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias.
La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2004.
Tavares R. Aprendizagem Significativa e o Ensino de Ciências. 28 Reunião Anual da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 2005.
Vigotsky L. S. Imaginación y Creación en la edad infantil. La Habana: Editorial Pueblo y Educacion, 1999.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudos sobre Inovação, Tecnologia e Educação. Aplicação de Tecnologias Móveis na Sala de Aula. Discussão sobre Educação na modalidade presencial e EaD. Apresentação de características da sala de aula do futuro. Competências para o Século XXI e as Tecnologias Digitais. Práticas com sistemas de avaliação online. Investigação sobre os Estilos de Aprendizagem, e Pensamento Computacional.
Referências Bibliográficas
Araújo Jr, C. F.. Desafios da Educação a Distância: Inovação e institucionalização. 1. ed. Sao Paulo: Ed. Terracota, 2016. v. 1. 217p . Araújo Jr, C. F.. Tecnologias Digitais e Educação a Distância: pesquisa e inovação no ensino superior. 1. ed. São Paulo: Ed. Terracota, 2016. v. 1. 195p . Araújo Jr, C. F.. Tecnologias e Aprendizado em Dispositivos Móveis (M-learning). 1. ed. São Paulo: Cruzeiro do Sul Educacional, 2016. v. 1. 106p . Araújo Jr, C. F.; Silveira, I. F. (Org.) . Tablets no Ensino Fundamental e Médio: princípios e aplicações. 1. ed. São Paulo: TerraCota, 2014. v. 1. 176p . Bento, Maria Cristina Marcelino; Cavalcante, Rafaela dos Santos (2013). Tecnologias Móveis em Educação: o uso do celular na sala de aula. Educação, Cultura e Comunicação, Vol. 4, No 7. Binkley, Marilyn et al. Defining twenty-first century skills. In: Assessment and teaching of 21st century skills. Springer Netherlands, 2012. p. 17-66. Coutinho, Clara Pereira (2011). TPACK : em busca de um referencial teórico para a formação de professores em Tecnologia Educativa. Paidéi@ : Revista Científica de Educação a Distância. Ago-2011. Muhlbeier, Andréia Rosangela; Mozzaquatro, Patricia Mariotto (2011). Estilos e Estratégias de Aprendizagem Personalizadas a Alunos das Modalidades Presenciais e a Distância. Revisa RENOTE – Novas Tecnologias na Educação. v.9, n.1. Peixoto, Joana; Araújo, Cláudia Helena dos Santos (2012). TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO PEDAGÓGICO CONTEMPORÂNEO. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 118, p. 253-268, jan-mar. Trindade, Jorge (2014). Promoção da interatividade na sala de aula com Socrative: estudo de caso. Indagatio Didactica, V.6, N.1.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudo sobre Inovação, Tecnologia e Educação, e TPACK. Aplicação de Tecnologias Móveis na Sala de Aula. Discussão sobre Educação na modalidade presencial e EaD. Apresentação de características da sala de aula do futuro. Competências para o Século XXI e as Tecnologias Digitais. Prática com sistemas de avaliação online. Investigação sobre os Estilos de Aprendizagem, e Pensamento Computacional.
Referências Bibliográficas
Araújo Jr, C. F.. Desafios da Educação a Distância: Inovação e institucionalização. 1. ed. Sao Paulo: Ed. Terracota, 2016. v. 1. 217p . Araújo Jr, C. F.. Tecnologias Digitais e Educação a Distância: pesquisa e inovação no ensino superior. 1. ed. São Paulo: Ed. Terracota, 2016. v. 1. 195p . Araújo Jr, C. F.. Tecnologias e Aprendizado em Dispositivos Móveis (M-learning). 1. ed. São Paulo: Cruzeiro do Sul Educacional, 2016. v. 1. 106p . Araújo Jr, C. F.; Silveira, I. F. (Org.) . Tablets no Ensino Fundamental e Médio: princípios e aplicações. 1. ed. São Paulo: TerraCota, 2014. v. 1. 176p . Bento, Maria Cristina Marcelino; Cavalcante, Rafaela dos Santos (2013). Tecnologias Móveis em Educação: o uso do celular na sala de aula. Educação, Cultura e Comunicação, Vol. 4, No 7. Binkley, Marilyn et al. Defining twenty-first century skills. In: Assessment and teaching of 21st century skills. Springer Netherlands, 2012. p. 17-66. Coutinho, Clara Pereira (2011). TPACK : em busca de um referencial teórico para a formação de professores em Tecnologia Educativa. Paidéi@ : Revista Científica de Educação a Distância. Ago-2011. Muhlbeier, Andréia Rosangela; Mozzaquatro, Patricia Mariotto (2011). Estilos e Estratégias de Aprendizagem Personalizadas a Alunos das Modalidades Presenciais e a Distância. Revisa RENOTE – Novas Tecnologias na Educação. v.9, n.1. Peixoto, Joana; Araújo, Cláudia Helena dos Santos (2012). TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO PEDAGÓGICO CONTEMPORÂNEO. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 118, p. 253-268, jan-mar. Trindade, Jorge (2014). Promoção da interatividade na sala de aula com Socrative: estudo de caso. Indagatio Didactica, V.6, N.1.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Essa disciplina se propõe a elaborar uma compreensão sobre as tendências teóricas e metodológicas no ensino de Matemática. Visa promover a identificação das diferentes linhas de pesquisa e dos grupos de pesquisas nacionais na área. Será provoca a análise sobre a diversidade de objetos de estudos relacionados a aritmética, geometria, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade e estatística e, também, sobre os múltiplos enfoques metodológicos adotados na produção científica da área. Busca-se suscitar discussões sobre relatos de pesquisas recentes publicados em periódicos científicos, bem como, a leitura e análise de teses sobre o Ensino de Matemática que foram publicadas nos últimos 5 anos.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, Jussara de L.; CAMPOS, Ilaine da S.; CAMELO, Francisco J. Pesquisar o que poderia ser: uma interpretação dialética para a relação entre prática pedagógica e pesquisa segundo a educação matemática crítica. In: LOPES, Celi E.; D’AMBROSIO, Beatriz. Vertentes da subversão responsável na produção científica em educação matemática. Campinas: Mercado de Letras, 2015. p. 43-62. BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. (Org.). Educação Matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004. BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Org.). Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. CORTÉS, José Carlos.; HITT, Fernando.; SABOYA, Mireille. Pensamiento Aritmético-Algebraico a través de un Espacio de Trabajo Matemático en un Ambiente de Papel, Lápiz y Tecnología en la Escuela Secundaria. Bolema, Rio Claro (SP), v. 30, n. 54, p. 240- 264, abr. 2016. D’AMBROSIO, Beatriz.; LOPES, Celi E. Ousadia criativa nas práticas de educadores matemáticos. Campinas: Mercado de Letras, 2015. D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: elo entre tradições e modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. FERNANDES, Felipe. A Educação Matemática Muda. Bolema, Rio Claro (SP), v. 30, n. 55, p. 308 – 324, ago. 2016. FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. GARNICA, A. V. M. (Org.). Cartografias contemporâneas: mapeando a formação de professores de Matemática no Brasil. Curitiba: Appris, 2014. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamento, resumo e resenhas. São Paulo: Atlas, 2014. NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. OLAVE, Teresita M.; RETAMAL, Ismenia G. Aproximación intuitiva a la aleatoriedade, el caso de alunos de 13 y 14 años de um liceo municipal. Bolema, Rio Claro (SP), v. 30, no.56, p. 1145-1164, dez.2016. PANOSSIAN, Maria Lucia.; MOURA, Manoel O. O Objeto de Ensino da Álgebra: Pesquisas, Programas Curriculares e a Fala dos Professores. Anais… do VI SIPEM. 15 a 19 de novembro de 2015. Pirenópolis – Goiás – Brasil. POWELL, Arthur B.; PAZUCH, Vinícius. Tarefas e justificativas de professores em ambientes virtuais colaborativos de geometria dinâmica. Zetetiké, Campinas, SP, v.24, n.2, maio/ago.2016, p.191-207. TREVISAN, André L.; BURIASCO, Regina L. C. Avaliação e currículo: o caso da trigonometria. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.18, n.2, pp. 551-549, 2016. VALENTE, W. R. (Org.). História da educação matemática no Brasil: problemáticas de pesquisa, fontes, referências teórico-metodológicas e histórias elaboradas. São Paulo: Livraria da Física, 2014.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudo de elementos da álgebra e geometria bem como suas articulações na construção de conhecimentos
Matemáticos.
Desenvolvimento de atividades que permitam aos alunos elaborar metodologias de ensino, verificando
também a necessidade de articulação dos campos matemáticos e as dificuldades presentes em relação aos
processos de ensino e aprendizagem tanto na álgebra quanto na geometria.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Matemática: ensino médio. DRUCK, S. (Org.); seleção de textos Ana Catarina P. Hellmeister,
Cláudia Monteiro Peixoto. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2004. 246
p.: il. (Coleção
Explorando o ensino, volume 3). Disponível em: <http://www.cdcc.usp.br/cda/PARAMETROS-CURRICULARES/MEEnsino-
Medio/matematica-vol-03.pdf>. Acesso: 17 junho 2017.
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática. 2ª ed. Lisboa/Portugal: Gradiva, 1998.
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar. vol. 7. 5a ed. |Ed. Saraiva (Atual Ed.), 2005.
KIERAN, C. The learning and teaching of school algebra. In Grows, D. A. (Ed.), Handbook of research on
mathematics teaching and learning (pp. 390-419). New York, NY: MacMillan, 1992.
LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER,E.; MORGADO, A. C. A Matemática do Ensino Médio. vol. 1. 9a ed.
Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, 2006.
LINS, R. C.; GIMENEZ, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI. Campinas: Papirus, 1997.
USISKIN, Z. Concepções sobre a álgebra da escola média e utilizações das variáveis. In: COXFORD, A. F. e
SHULTE, A. P. As ideias da álgebra. São Paulo: Atual, p. 9-22, 1995.
WALLE, John A. van. O pensamento e os conceitos geométricos. In: WALLE, John A. van. Matemática no ensino
fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula. São Paulo: Papirus, 2009. p. 438-484.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
A disciplina tem como objetivo o estudo dos níveis de organização da vida e dos seres vivos, tendo a evolução como eixo integrador do conhecimento biológico. Apresenta conceitos básicos da Biologia clássica, tais como: história da Biologia, origem da vida, principais filos e divisões dos reinos, nos seus aspectos morfológicos e fisiológicos. Outro foco dessa disciplina é o estudo dos fundamentos de Botânica e de Zoologia.
Referências Bibliográficas
Amorim, D.S. Fundamentos da sistemática filogenética. Holos. 2002. BARNES, Richard S. K. et al. Os invertebrados: uma síntese. 2. ed. São Paulo : Atheneu, 2008. Marguli,L. Schwartz K.V. Cinco reinos: um guia ilustrado dos filos da vida na Terra. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001 Rodrigues, M.E. ; Della Justina, L.A.; ** Fernanda Aparecida Meglhioratti, F.A. O CONTEÚDO DE SISTEMÁTICA E FILOGENÉTICA EM LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO. Rev. Ensaio | Belo Horizonte, v.13, n.02, p.65-84 , 2011.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Aplicação de conceitos fundamentais de Ecologia do indivíduo, de populações e de comunidades animais e vegetais, sua importância na compreensão dos fenômenos ecológicos atuais e sua relação com o indivíduo. O papel da educação na visão ecológica do ser humano.
Referências Bibliográficas
Conceitos e princípios de Educação Ambiental, suas relações para a conquista dos direitos de cidadania, evidenciando os mecanismos determinantes para as condições de vida das pessoas no ambiente, considerando os aspectos biológicos, meio físico, socioeconômico, educativo, cultural e a sustentabilidade da vida no planeta. Professor Responsável: Profa. Dra. Rita de Cássia Frenedozo Bibliografia CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: formação do sujeito ecológico. 5a ed. São Paulo: Cortez, 2011. GUERRA, A. F. S.; FIGUEIREDO, M. L. Ambientalização curricular na Educação Superior: desafios e perspectivas. Educar em Revista. 2014, nº 3, pp. 109 – 126. LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. C. As macrotendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambiente & Sociedade, Vol. 17, nº 1, pp. 23 – 40, 2014. Miyazawa, G.C.M.C ; Frenedozo, R.C.; Vieira, R.M. Ambientalização Curricular no Projeto Pedagógico de um curso de Ciências Biológicas. Indagatio Didactica, v.9, no.4, p. 407-425, 2017. PINOTTI, R. Educação ambiental para o século XXI no Brasil e no mundo. São Paulo, Editora Blucher 2010. REIGOTA, M. O que é educação ambiental. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 107 p. RUSCHEINSKY, A. Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 2002. SILVA, E.J. ; MACIEL,M. D. FRENEDOZO, R.C.; OROZCO MARÍN, Y.A. INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: ANÁLISE A PARTIR DE UMA VERTENTE PEDAGÓGICA CRÍTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Bio-Grafia, v. 10, no. 19, p. 601-609, 2017. TOZONI-REIS, M. F. C.; CAMPOS, L. M. L. Educação ambiental escolar, formação humana e formação de professores: articulações necessárias. Educar em Revista, n.3, pp. 145 – 162, 2014.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Conceitos e princípios de Educação Ambiental, suas relações para a conquista dos direitos de cidadania, evidenciando os mecanismos determinantes para as condições de vida das pessoas no ambiente, considerando os aspectos biológicos, meio físico, socioeconômico, educativo, cultural e a sustentabilidade da vida no planeta.
Referências Bibliográficas
‘CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: formação do sujeito ecológico. 5a ed. São Paulo: Cortez, 2011. Dias, B.C.; Bomfim, A.M. A “TEORIA DO FAZER” EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: uma reflexão construída em contraposição à Educação Ambiental Conservadora. BRASI. Política Nacional de Educação Ambiental LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm LAYRARGUES, P. P. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: evolução de um conceito? Revista Proposta, Rio de Janeiro, v. 24, n. 71, p. 1-5, 1997. Munhoz, R.H.; Knüpfer, R.E.N. Educação Ambiental Crítica: algumas dimensões e sua epistemologia. In: XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC, 2017, p. 1-8. Tozoni-Reis, M.F.C. Educação e sustentabilidade: relações possíveis. Olhar de professor, Ponta Grossa, 14(2): 293-308, 2011. Disponível em http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor Zara, R.C.S.; Tavares, B. A Educação Ambiental e a utilização de Oficinas Pedagógicas na formação da Cidadania. Revista Tecnologia e Sociedade – 1ª Edição, 2014., p. 88 – 98.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Compreensão da Física como construção humana. Análise de metodologias alternativas para o ensino de tópicos de Física Clássica: experimentação, livro paradidático e recursos áudios-visuais.
Elaboração de materiais
didáticos alternativos para o ensino de Física. A relação entre a Física e a Educação Ambiental: estudo das fontes de
energia e seus impactos ambientais.
Elaboração de textos de apoio didático.
Análise de revistas especializadas em
Ensino de Física e suas possíveis contribuições para o ensino de Física e para o desenvolvimento docente.
Análise de artigos de revistas de divulgação científica e seu uso em sala de aula.
Apresentação de seminários ou projetos de Ensino de Física.
Referências Bibliográficas
Araújo, M. S. T., Abib, M. L. V. S., – Atividades experimentais no Ensino de Física: diferentes
enfoques, diferentes finalidades, Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 25, 2, 176-194 , Junho de 2003.
Axt, R.; Moreira, M. A., Silveira, F. L.; Experimentação seletiva e associada à teoria como estratégia para facilitar a
reformulação conceitual em Física. Revista de Ensino de Física, 12: 139-158, 1990.
Bermann, C.; Energia no Brasil: para quê? Para quem? Crise e Alternativas para um País Sustentável, Editora
Livraria da Física, São Paulo, 2002.
Cruz, F. F. S.; Ferrari, N.; Ribeiro, M. C. M.; O uso da divulgação científica como instrumento didático num tema interdisciplinar, Caderno de Resumos do VII Encontro de Pesquisa em – Ensino de Física, pág. 155, Florianópolis,
Santa Catarina, 27-31/03/2000.
NUSSENZVEIG, H. M.; Curso de Física Básica, 1ª edição, Vol. 1, 2, 3 e 4, São Paulo, Editora Edgard Blücher Ltda, 1998.
SERWAY, R. A. Física, 3ª edição, Vol. 1, 2 e 3. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S. A.,
1996.
TIPLER, P. Física: para Cientistas e Engenheiros. 4a edição. Vol. 1, 2 e 3, Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e
Científicos Editora S. A., 2000.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Transição histórica da Física Clássica para a Física Moderna.
O éter e o experimento de Michelson-Morley.
Os postulados de Einstein e suas consequências.
Demonstração da dilatação do tempo e da contração do comprimento.
O paradoxo dos gêmeos.
Referências Bibliográficas
Cohen-Tannoudji, C., Diu, B. & Laloe, F. Quantum Mechanics. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, New York. Volumes 1 e 2.
Landau, L. & Lifshitz, E., Editora Mir, Moscou. Volume 2.
Halliday, D. & Resnick, R., Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro. Volume 2.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Elaboração e execução de experimentos e formas de abordagem e desenvolvimento de temas relativos aos conteúdos de Genética Clássica e de Genética Moderna.
Análise e avaliação da abordagem do tema em livros didáticos e artigos científicos, com ênfase no ensino.
Referências Bibliográficas
GRIFFITHS, A.J.F. Introdução à Genética. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Editora GuanabaraKoogan, 2009, 744 p.
HARTL, D.L.; CLARK, A.G. Princípios de Genética de Populações. 4ª. edição. Porto Alegre: Editora Artmed, 2010,660 p.
MOURA, J. ; DE DEUS, M.S.M.; GONÇALVES, N.M.N. ; PERON, A.P. Biologia/Genética: O ensino de biologia, com
enfoque a genética, das escolas públicas no Brasil – breve relato e reflexão. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 34, n. 2, p. 167-174, jul./dez. 2013.
POÇAS-FONSECA, M.J.; KLAUTAU-GUIMARÃES, M.N. HOMO SAPIENS 1900: UM DOCUMENTÁRIO NO ENSINO DE GENÉTICA.Genética na Escola, v.12, n.2, p. 204-205, 2017.
SETUVAL, F.A.R; BEJARANO, N.R.R. OS MODELOS DIDÁTICOS COM CONTEÚDOS DE GENÉTICA E A SUA
IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA. Anais
do VII ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis, p. 1-12, 2009.
TATSCH, H.M. ; SEPEL,L.M.N. Baralho Mitótico. Genética na Escola, v.12, no.2, p. 160-175, 2017.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudo dos conjuntos numéricos: dos naturais aos reais.
Significados das operações (nos diferentes
conjuntos numéricos) e algoritmos.
Abordagem didática dos conjuntos numéricos e das operações cm conjuntos
numéricos diferentes, com ênfase nos números naturais, racionais, inteiros e irracionais.
Quadros teóricos e pesquisas sobre os números e operações.
Análise de livros didáticos e de pesquisas sobre o assunto.
Referências Bibliográficas
BRUNO, A. C. La ensenãnza de los números negativos: aportacione de uma investigação. Revista de didática de la Matemática, Universidade de La Laguna, n.29. Marzo, 1997, p. 5-18.
FOSNOT, C. E DOLK, M. Young mathematicians at work: constructing multiplication and division. Portsmouth, N. H.
Heineman, 2001 GLAESER, G. Epistemologia dos números relativos. Trad. Lauro Tinoco. Boletim GEPEM, Rio de Janeiro, 17: 29-
124, 1985.
LERNER, Delia; SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um problema didático.
In: PARRA, C. e SAIZ, I.
(Org.). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 73-155.
NETO, F. R. Menos vezes menos dá mais: observações históricas sobre o conceito de número negativo. Revista de
Educação Matemática e Tecnologia Ibero-Americana, v.2, n.1, 2011.
Disponível em:
https://periodicos.ufpe.br/revistas/emteia/issue/view/159. Acesso em mai de 2017.
PIRES, C. M. C. Números naturais e operações. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2013.
ROSSI, R.U.M. Reflexões sobre o ensino dos números inteiros: uma análise de livros didáticos de matemática do
ensino fundamental. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática), Universidade Cruzeiro do Sul.
São Paulo, 2009.
VECE, Janaina Pinheiro; SILVA, Simone Dias; CURI, Edda. Desatando os nós do Sistema de Numeração Decimal: investigações sobre o processo de aprendizagem dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental a partir de questões
do SAEB/Prova Brasil. In: Educação Matemática e Pesquisa, São Paulo, v.15, n.1, 2013, p.223-240.
VECE, J. P. Alunos do 1º ano do ensino fundamental e os problemas de transformação negativa.
In. CURI, E.
NASCIMENTO, J. C. P. Educação Matemática: grupos colaborativos, mitos e práticas. São Paulo. Terra Cota, 2012.
VERGNAUD, G. A criança, a matemática e a realidade: problemas do ensino da matemática na escola elementar.
Trad. Maria Lúcia Faria Moro. Curitiba: Ed. da UFPR, 2009.
__.A teoria dos campos conceituais.In: BRUN, J. (Dir.) Didácticas das MATEMÁTICAS. Lisboa: Instituto Piaget,
1996.
____. (1994). Multiplicative conceptual field: what and why? In Guershon, H. and Confrey, J. (1994). (Eds.) The
development of multiplicative reasoning in the learning of mathematics. Albany, N.Y.: State University of New York Press. pp. 41-59.
ZARAN, M. L. O. Uma análise dos procedimentos de resolução de alunos de 5º ano do ensino fundamental em
relação à problemas de estruturas multiplicativas. 2013.172 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática)Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2013.
ZARAN, M. L. O.; SANTOS, C. A. B. Uma análise sobre aprendizagens e dificuldades reveladas por alunos do 5º ano
na resolução de problemas de estrutura multiplicativa. In Curi, E. e Nascimento, J. C. Educação Matemática: grupos
colaborativos, mitos e práticas.
ZUNINO, Delia Lerner. A Matemática na Escola: aqui e agora. Porto Alegre: Artes Médicas. 1995.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Essa disciplina se propõe a discutir e analisar conceitos e procedimentos de Estatística e Probabilidade.
Considera-se a Estatística como a ciência de análise de dados e a Probabilidade como a teoria que permite o cálculo da chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. Para isso, o estudo será vinculado ao uso de tecnologias e ao desenvolvimento de projeto de investigação estatística.
Busca-se ainda, enfatizar as contribuições
contemporâneas da produção científica em Educação Estatística.
Referências Bibliográficas
AGRESTI, Alan.; FRANKLIN, Christine. Statistics: The art and Science of learning from data. New
Jersey: Pearson, 2007.
ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística aplicada à administração e
economia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
FREUND, John E.; SIMON, Gary A. Estatística Aplicada: economia, administração e contabilidade. Porto Alegre:
Bookman, 2000.
LOPES, Celi. A educação estocástica na infância. Revista Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: UFSCar, v. 6, no.
1, p.160-174, mai. 2012. Disponível em http://www.reveduc.ufscar.br. Acesso em: 10.ago.2017.
LOPES, Celi E.; SOUZA, L. O. Aspectos filosóficos, psicológicos e políticos no estudo da Probabilidade e da Estatística na Educação Básica. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.18, n.3, pp. 1465-1489, 2016.
LOPES, Celi E.; MENDONÇA, L. O. Prospectivas para o estudo da probabilidade e da estatística no ensino
fundamental. VIDYA, v. 36, n. 2, p. 293-314, jul./dez., 2016 – Santa Maria, 2016.
MENDONÇA, Luzinete. O.; LOPES, C. E . Educação Estatística em um ambiente de modelagem matemática nas aulas do ensino médio. Horizontes, v. 31, p. 9-19, 2013.
MOORE, David S. A Estatística Básica e Sua Prática. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
YATES, Daniel S.; MOORE, David S.; STARNES, Daren S. The Practice of Statistics. New York: W.H. Freeman and Company, 2008.
WILD, Christopher J.; SEBER, George A. F. Encontros com o Acaso: um primeiro curso de análise de dados e
inferência. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Estudo da história da química e da aplicação de seus conceitos em vários setores da sociedade a partir de
pesquisas científicas.
Análise da importância social e cultural relacionada aos conhecimentos de seus conceitos.
Referências Bibliográficas
ALMEIDA, Márcia R.; PINTO, Angelo C. Uma breve história da química Brasileira. Cienc. Cult. v.63,
n.1, p.41-44, 2011.
GALEMBECK, Fernando. Evolução e inovação no setor químico brasileiro: uma visão dos últimos quarenta anos.
Quím. Nova, v.40, n.6, p.630-633, 2017.
Strathern, Paul. O sonho de Mendeleiev – a verdadeira historia da quimica, Rio de Janeiro: Zahar.2002.
SARTORI, Lucas Rossi; LOPES, Norberto Peporine, GUARATINI, Thais. A quimica no cuidado da pele. Sao Paulo:
Sociedade Brasileira de Quimica, 2010. (Colecao Quimica no cotidiano, v. 5).
5.BELLO, Olugbenga S.; ADEGOKE, Hayode, A.; OYEWOLE Rhoda O. Biomimetic Materials in Our World: A
Review. Journal of Applied Chemistry. v.5,n.3, p.22-35, 2013.
MESSEGUER, Angel. Los quimicos y el descubrimiento de farmacos. 2010,
Disponívelem:http://sici.umh.es/Articulo%20divulgación%20Angel%20Messeguer%20Oct.2010-1.pdf.
FERREIRA, Adriane Guedes. Quimica forense e tecnicas utilizadas em resolucoes de crimes. Acta de Ciências &
Saúde. v.1, n.2, p.32-44, 2016.
GUIDO, Rafael V. C.; ANDRICOPULO, Adriano D.; OLIVA, Glaucius. Planejamento de fármacos, biotecnologia e
química medicinal: aplicações em doenças infecciosas. Estud. Av. v.24, n.70 p.81-98., 2010.
CRUZ, António João. A química aplicada ao estudo das obras de arte: passado e desafios do presente. Boletim da
Sociedade Portuguesa de Química, v.137, v.39, p.43-51, 2015.
MACHADO, A.S.C. et al. A propósito das novas massas atômicas relativas médias de alguns elementos
químicos. Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, n.126, p.51-55, 2012.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Panorâmica geral da aplicação da Química Orgânica em várias áreas, evidenciando o seu carácter
interdisciplinar. Serão apresentados, analisados e discutidos estudos que ilustram a sua relevância nas áreas da saúde e alimentação.
Será dada também ênfase ao seu ensino no Ensino Médio e Superior.
Referências Bibliográficas
VICTOR, MAURICIO M. Quimica organica no Brasil: sua contribuicao na sintese total de produtos
naturais desde a fundacao da SBQ. Quim. Nova, v. 40, n.6, p. 701-705, 2017.
BANSODE, Scheelratan, S.; HIREMATH, R.B.; KOLGIRI, Somnath; DESHMUKH, Ranjitsinh, A. Biomimetics and
Its Applications – A Review. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. v.6, n. 6, p.63-
72, 2016.
MATA, Paulina. A linguagem da química orgânica: R ou S? tem mesmo a certeza que conhece o sistema de Cahn
– Ingold – Prelog? Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, n.126, p.57-65, 2012.
CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. Química verde no Brasil: 2010-2030. Brasília, DF: Centro
de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010.
MARTÍNEZ, Leidy Angélica Aguilera; GARAY Fredy Ramón. La estructuración de la química orgánica a partir de
las teorías dual y unitaria: Una mirada Kuhniana. Educ. quím., v.25, n.2, p. 148-153, 2014. Disponível em:
http://www.elsevier.es/es-revista-educacion-quimica-78-articulo-la-estructuracion-quimica-organica-partir-
S0187893X14705385
SILVA, Pablo Teixeira da et al. Microencapsulation: concepts, mechanisms, methods and some applications in food
technology. Cienc. Rural. v.44, n.7, p.1304-1311, 2014.
ZARBIN, Aldo J. G.; OLIVEIRA, Marcela M. Nanoestruturas de carbono (nanotubos, grafeno): Quo Vadis?. Quím.
Nova, v.36, n.10, p.1533-1539, 2013.
BAHAMONDE-NORAMBUENA, D. et al. Polymeric Nanoparticles in Dermocosmetic. Int. J. Morphol. v.33, n.4,
p.1563-1568, 2015.
SILVA, Valmir B.; ORTH, Elisa S. Introdução à físico-química orgânica utilizando um colorímetro artesanal – uma
prática interdisciplinar. Quím. Nova, v.40, n.2, pp.238-245, 2017.
MANO, JOÃO F. Polímeros inteligentes em aplicações médicas. Boletim da Sociedade Portuguesa de Química,
n.126, p.27-31, 2012.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
Disciplina que engloba temas recentes de pesquisa da área de educação matemática com a presença de
docentes renomados, nacionais ou internacionais, convidados de outras Instituições de ensino.
Referências Bibliográficas
De acordo com a especificidade das pesquisas trabalhadas.
- Nível: Mestrado
- Créditos: 2
Ementa
História e Evolução dos conceitos astronômicos.
A origem e evolução do Sistema Solar.
A Astronomia no cotidiano de nossas vidas.
Astronomia como elemento motivador nas aulas de Física e Matemática.
A teoria da panspermia e suas questões filosóficas.
Referências Bibliográficas
Sagan, C., Cosmos. Editora Francisco Alves, Rio de Janeiro.
Gleiser, M., A danca do Universo dos mitos de criacao ao Big-Bang. Companhia das Letras. Editora Schwarz Ltda,
Sao Paulo.
Hawking, S., O Universo numa casca de noz. Editora Mandarim. São Paulo.
Este projeto desenvolve pesquisas no âmbito do ensino e da aprendizagem em Ciências, Matemática e Tecnologias, em espaços formais e não formais de aprendizagem. Desenvolve e analisa abordagens metodológicas, epistemológicas, científicas, sociais, ambientais e inclusivas inovadoras, considerando as tendências atuais expressas em documentos oficiais e nas pesquisas recentes das áreas. Abrange pesquisas em todos os níveis e modalidades de ensino, considerando as possibilidades interdisciplinares, as relações com outras áreas do conhecimento, bem como as contribuições da associação dos processos de ensino e aprendizagem com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Contempla as abordagens contextualizadas que valorizam as relações entre os conhecimentos escolares e científicos, a sociedade e o meio ambiente, enfatizando o desenvolvimento da criatividade, da criticidade e do exercício da cidadania, e fortalecendo a identidade do indivíduo em suas relação com o meio em que se insere.
Linha de pesquisa
O referido Projeto está alocado na linha de pesquisa “Currículo, formação e avaliação de professores que Ensinam Ciências e Matemática”, abrange os dois níveis de ensino: a Educação Básica e o Ensino Superior. As investigações buscam compreender as políticas e demandas formativas no âmbito da formação inicial e continuada, incluindo as suas articulações com a Educação CTS, os seus processos identitários que constituem o professor no contexto atual, compreendendo as características da profissionalização dos professores que ensinam Ciências e Matemática, bem como de seu desenvolvimento profissional em suas diferentes vertentes epistemológicas, históricas, metodológicas e didáticas, considerando também que as formações podem ocorrer em espaços formais ou não formais de aprendizagem, envolvendo o uso ou não de tecnologias da informação e da comunicação, permitindo verificar os impactos que estas proporcionam no desenvolvimento da profissionalização docente. No que tange ao Currículo, as investigações recaem sobre a compreensão histórica, epistemológica e cultural de como os currículos foram se estruturando e qual o impacto que eles trazem na vida escolar dos estudantes, dos professores e da comunidade escolar, uma vez que eles materializam uma visão política, cultural, social e econômica da sociedade, explicitando tensões, desafios, diferentes significados e relações de poderes na sua constituição, na implantação e na implementação de políticas curriculares, podendo levar em consideração o uso de materiais didáticos curriculares que são disponibilizados aos professores e alunos para o desenvolvimento do currículo, em especial envolve os currículos de Matemática, Ciências e Tecnologias, com foco no pensamento computacional e na inteligência artificial. Em relação a à avaliação, o Projeto visa compreender as concepções de avaliação da aprendizagem, o significado do erro, os diferentes tipos de avaliações e de instrumentos utilizados na avaliação na escola e da escola, sejam elas digitais ou não, incluindo também as políticas públicas de avaliação.
Linha de pesquisa
-
Coordenação do Curso
Coordenação
Coordenadora: Profa. Dra. Edda Curi
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Rita de Cassia FrenedozoMais informações
Secretaria de Pós-Graduação da Liberdade
Telefone: (11) 3385-3015
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
E-mail: stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br
-
Hei
Para acessar o Teste Vocacional e descobrir a carreira certa para você, preencha os campos abaixo.
É bem rapidinho!
Obrigado! Aguarde só um instante:
Estamos preparando seu teste e já vamos te encaminhar automaticamente em alguns segundos.
Hei,
Estamos muito felizes por seu interesse em conhecer um de nossos campi.
Para que possamos agendar a sua vista, preencha o formulário abaixo.